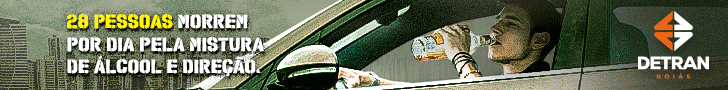Um dos maiores desafios postos à Advocacia Criminal na atualidade, senão o maior deles, diz respeito à recalcitrância de frações da magistratura em observar e respeitar o dever de motivação dos atos judiciais. Passagens de decisões judiciais como “a liberdade individual não deve preponderar à liberdade coletiva” e “o contato telefônico do promotor de justiça ao gabinete, opinando pela prisão do investigado, afasta a tese de atuação de ofício do magistrado” [1], além de desvelarem o que se convencionou chamar de solipsismo judicial, demonstram o desprezo à técnica de motivação das decisões judiciais ou o seu total desconhecimento. Como sou um otimista, quero crer que a raiz do problema resida na última hipótese.
O dever de motivação possui visceral relação com o estado democrático de direito e está previsto no art. 93, IX da Constituição Federal, que dispõe: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.
Em matéria penal, o dever de motivação irradia pelo subsistema do Código de Processo Penal, a ver a menção no § 4º do art. 310 que dispõe que a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea acarretará o relaxamento da prisão; no § 1º do art. 315 que exige que a decretação da prisão preventiva seja precedida de motivação idônea, justificadora da necessidade da medida; no art. 564, inciso V que autoriza a declaração de nulidade do ato em decorrência de decisão carente de fundamentação; e no art. 381, IV que impõe sejam indicados os motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão judicial.
Como é de conhecimento da comunidade jurídica, a ordem democrática surge, justamente, em oposição ao poder despótico, marcado pela ausência de controles, limitações ou amarras. Nesse contexto, o dever de motivação das decisões judiciais passa a ser visto nas constituições da maioria dos países após a segunda guerra mundial, constituições estas que, muito além de expressarem diretrizes políticas de conteúdo programático [2], são, em verdade, instrumentos fortes que pretendem proteger o indivíduo face à expansão demasiada do poder.
Historicamente, ainda que delas não constasse expressamente, as constituições tornaram implícita a necessidade de proscrição do poder, limitando-o. E não é só: um sistema jurídico que se assenta sobre o estado de direito implica que os juízes têm a obrigação de dar conta do poder que exercem e, para tanto, têm o dever de motivar os atos que proferem. Logo, por decorrer do princípio do estado democrático de direito, o dever de motivação relaciona-se, diretamente, com a necessidade de controlar a racionalidade do exercício do poder, de todo o poder, o que incluiu, por decorrência, o poder que é exercido pelos juízes.
Mas, afinal, o que quer a Constituição quando impõe aos juízes o dever de motivar as decisões judiciais?
De forma geral, motivar consiste em expressar no documento da decisão os motivos e as razões por que alguém decidiu como decidiu, proporcionando, em primeiro plano, a compreensão de que as decisões judiciais são atos de poder e que, sob a égide do estado democrático de direito e em observância ao princípio da legalidade, a limitação ao exercício arbitrário do poder é dever que, caso inobservado, inquina o ato de ilegalidade em razão da arbitrariedade que inocula.
Nesse contexto, o dever de motivação dos atos judiciais cumpre três funções básicas [3], a saber: (a) função política, democrática ou pública, na medida em que ocorre uma demonstração pública dos motivos que sustentam a decisão também se permite um controle público pelo conjunto da sociedade, possibilitando, em síntese, conhecer os motivos pelos quais determinada decisão foi tomada dessa ou daquela forma por um magistrado a quem foi socialmente delegada parcela de poder que, como reza o parágrafo único do art. 1º da CF/88, emana do povo; (b) função jurídica ou interna, que está relacionada aos tribunais superiores e à atividade desses tribunais de reexaminar as questões postas através dos recursos que poderão ser manejados para impugnar a decisão; e (c) função depuradora, que se relaciona ao juiz ou ao tribunal que adota a decisão e que consiste no processo de depuração das razões que levaram o magistrado a decidir como decidiu, pois, quando alguém decide e sabe ou tem consciência de que deverá motivar o ato judicial, será levado a fazê-lo de forma racional.
Sobre o seu conteúdo, o dever de motivação das decisões judiciais não se dirige à obrigação de explicar algo (ou responder à pergunta “por que”). Está relacionado, sim, à tarefa de justificar algo, de expor-se as razões que permitam que qualquer sujeito racional possa entender uma decisão como correta ou aceitável, justa ou válida. Explicando de forma mais simples, motivar é justificar.
Justificar um enunciado fático é demonstrar o que pode ser aceito como verdadeiro à luz das provas que foram praticadas. A justificação consiste em esgrimir as razões que permitam entender o que se pode aceitar como verdadeiro. É dizer: motivar é a contrapartida de uma valoração racional. Os argumentos da motivação são os argumentos que guiam a racional valoração da prova. Aqueles que estão detrás de um processo indutivo que é o que se percebe fundamentalmente no processo de validação da prova. São os argumentos que podem fazer parte do processo de valoração da prova.
Em linhas de conclusão, a justificação como conteúdo da motivação não deve ser um espelho do processo de decisão, momento em que o magistrado lança mão de elementos de ordem subjetiva, como, dentre outros, visões de mundo e do conhecimento presentes apenas em sua consciência – daí o solipsismo judicial. Deve, sim, representar o momento de revisão do processo decisório, ocasião em que o magistrado irá separar os elementos que podem ser usados como explicação justificadora da decisão daqueles que não podem ser utilizados para tal fim, seja porque violadores de normas constitucionais ou legais, ou porque originados do senso comum primitivo e, portanto, rechaçados pelo escrutínio da razão.
[1] As passagens são extraídas de julgados da 3ª Câmara Criminal do TJGO, mas poderiam ser facilmente verificadas da jurisprudência de outros órgãos fracionários de tribunais de justiça do país.
[2] A exemplo da Constituição brasileira de 1988.
[3] Sobre o tema, consultar Abellán, Marina Gascón. O problema de provar. Rio de Janeiro : Marcial Pons, 2022. Ainda, sobre o tema, ver “Prueba sin Convicción”, de Jordi Ferrer Beltrán e, da mesma autora, “Los hechos en el derecho”, todos publicados por Marcial Pons.