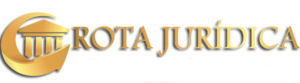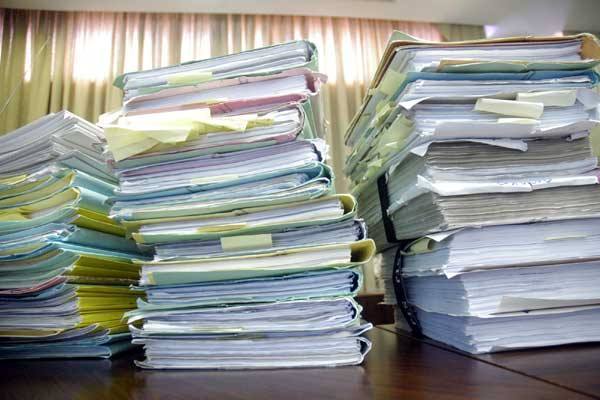Julyana Guimarães Ramos*
Julyana Guimarães Ramos*
As recentes decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo e não incorporados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos Temas 6 e 1234 são, sem dúvida, marcos para a judicialização da saúde no Brasil.
Ao estabelecer critérios mais rigorosos para a concessão judicial desses medicamentos, o STF busca equilibrar o direito individual à saúde com a sustentabilidade financeira do sistema público. Mas a pergunta que fica é: a quem esse equilíbrio realmente beneficia?
Em uma análise crítica, esses novos parâmetros podem parecer, à primeira vista, um passo para maior controle e eficiência. No entanto, ao observarmos mais de perto, há desafios que exigem um olhar cuidadoso sobre as consequências práticas para pacientes, principalmente os que enfrentam doenças graves e raras.
A decisão sobre o Tema 6 trouxe um avanço no entendimento sobre a concessão de medicamentos não incorporados. O STF definiu que, como regra geral, a falta de incorporação pelo SUS impede o fornecimento judicial, mas com algumas exceções.
A concessão judicial poderá ocorrer em situações específicas, nas quais o paciente cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos:
1. Negativa administrativa de fornecimento, ou seja, o pedido precisa ter sido recusado no sistema administrativo do SUS.
2. Falhas no processo de incorporação, como ausência de análise ou demora na avaliação pela CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias).
3. Impossibilidade de substituição por outro medicamento que já esteja disponível no SUS.
4. Eficácia e segurança comprovados do medicamento, com base em estudos científicos e ensaios clínicos.
5. Comprovação de necessidade clínica para o tratamento, incluindo laudos médicos detalhados.
6. Incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento.
É imperioso ressaltar que os critérios estabelecidos para a concessão de medicamentos não incorporados podem dificultar o acesso para pacientes que, muitas vezes, dependem da intervenção judicial para tratamentos essenciais.
Os requisitos cumulativos – como a negativa administrativa e a necessidade de comprovação científica rigorosa – são barreiras que nem todos os pacientes conseguem superar, especialmente em casos de doenças raras, em que os estudos clínicos muitas vezes são escassos. Exigir uma evidência científica robusta para cada pedido, por exemplo, pode tornar inviável o acesso para medicamentos ainda em fase de desenvolvimento.
Um ponto crítico ainda pouco explorado é o impacto dessa decisão nas ações judiciais para doenças raras. Os tratamentos para essas doenças geralmente não possuem estudos clínicos amplamente acessíveis devido à baixa prevalência e, por consequência, o alto custo e a falta de incorporação pelo SUS tornam a via judicial a única esperança. Com critérios mais rígidos, muitos desses casos podem não obter êxito na justiça, deixando pacientes e famílias em situação de desamparo.
No que concerne ao ente federativo e os custos, a nova diretriz de divisão de custos entre União, Estados e Municípios poderia parecer um avanço. No entanto, a prática tem mostrado que essa repartição muitas vezes gera mais burocracia do que efetividade, aumentando o tempo e a complexidade para que o paciente receba o medicamento.
Essa divisão financeira, embora bem intencionada, levanta dúvidas sobre sua aplicação na realidade – em que processos de reembolso e ressarcimento frequentemente enfrentam atrasos e divergências entre os entes federativos.
Nesse cenário, os casos em que o custo anual unitário do medicamento varia entre 7 e 210 salários-mínimos (aproximadamente R$ 10 mil e R$ 295 mil) continuarão sendo processados pela Justiça estadual. Como regra, a União deverá reembolsar 65% das despesas decorrentes das condenações impostas aos Estados e municípios, com prazo de até 90 dias para efetuar o pagamento.
Para ações ajuizadas até 10 de junho de 2024 relacionadas a medicamentos oncológicos não incorporados e com custo superior a sete salários-mínimos, a União cobrirá 80% das despesas. Nos casos em que o custo anual for inferior a sete salários-mínimos, o Estado responsável assumirá o pagamento.
Essas questões nos levam a refletir sobre conceitos fundamentais do direito à saúde: a tese do mínimo existencial e a reserva do possível. A primeira é defendida por autores como José Afonso da Silva e Luís Roberto Barroso, este presente no julgamento dos Temas 6 e 1234, sugere que o Estado tem a obrigação de garantir condições mínimas para que a dignidade humana seja preservada. Isso implica que, independentemente das limitações orçamentárias, o acesso à saúde deve ser uma prioridade.
Por outro lado, o conceito de reserva do possível, conforme discutido por Rolf Madaleno e Fernando de Souza Martins, reconhece que o Estado não pode ser obrigado a garantir todos os direitos sociais em sua plenitude, devido a restrições orçamentárias e financeiras. Essa dicotomia entre o mínimo existencial e a reserva do possível coloca o STF em uma posição delicada, onde a interpretação da legislação deve equilibrar a necessidade urgente de acesso à saúde e a realidade das limitações orçamentárias.
Dessa forma, as decisões do STF sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo e não incorporados ao SUS representam um avanço em termos de organização e controle, mas trazem também uma série de desafios e limitações que não podem ser ignorados. Ao impor critérios rígidos e burocráticos, corre-se o risco de transformar o direito à saúde em um privilégio condicionado, em que apenas os pacientes que atendam a um conjunto restrito de critérios têm acesso ao tratamento.
A crítica que se faz aqui não é contra a necessidade de controle, mas contra a maneira como esse controle está sendo implementado, com barreiras que podem se mostrar prejudiciais a quem mais precisa.
A sociedade deve estar atenta para garantir que a proteção da saúde seja uma prioridade, considerando tanto a tese do mínimo existencial quanto as realidades da reserva do possível. Afinal, o desafio é encontrar um equilíbrio que proteja as contas públicas sem sacrificar a dignidade e a saúde dos cidadãos mais vulneráveis.
O que esperar daqui para frente?
Essas decisões do STF visam a garantir que apenas os casos realmente necessários e bem fundamentados sejam judicializados, evitando pedidos sem base sólida e garantindo uma análise técnica. Para quem busca tratamentos ou medicamentos que ainda não estão no SUS, essas regras prometem oferecer mais clareza sobre os passos a seguir, enquanto o sistema de saúde pública tem uma chance de se organizar melhor e focar em oferecer o que realmente importa.
Assim, se você ou alguém que conhece precisa de assistência para um tratamento essencial, é essencial entender bem essas diretrizes. Consultar um advogado especializado pode ser crucial para garantir que todos os requisitos sejam atendidos e os direitos de acesso à saúde, preservados.
*Julyana Guimarães Ramos é advogada em direito médico, odontológico e da saúde, membro do Instituto de Estudos Avançados em Direito (IEAD). Pesquisadora ativa em Direito Constitucional e Processual Civil. Instagram: @julyanagr. Linkedin: Julyana Guimarães.
Referências
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 1.366.243, tema 1.234 de repercussão geral. Rel.: Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno, Dje. 19/09/2024.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 566.471, tema 06 de repercussão geral, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac Min. Gilmar Mendes e Min. Roberto Barroso. Tribunal Pleno, julgado em 21 set. 2024.
3 KELBERT, Fabiana. Reserva do Possível e a Efetividade dos Direitos Sociais no Direito Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.
4 KRELL, Andreas Joachim. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha: Os (Des) Caminhos de um Direito Constitucional “Comparado”. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 2002.